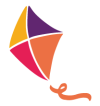Conceituando a favela à luz das ideias de Marielle Franco
Resumo:
O objetivo desse verbete é refletir sobre as definições do conceito de favela, em especial, a favela da Maré, à luz da dissertação de mestrado de Marielle Franco “UPP: a redução da favela em três letras” (2012), trazendo para o centro do debate as análises sobre favela feitas por intelectuais favelados, no que diz respeito ao espaço geográfico, manifestações culturais, religiosidades, interseção classe/raça/gênero, entre outros.
1- Conceituando a favela
As favelas são espaços urbanos que resumem a desigualdade econômica e social no Brasil (Franco, 2012). De acordo com o Censo de 2010 do IBGE, 22% da população da cidade do Rio morava em favelas. O Complexo da Maré abrigava mais de 9% dessa população, com 135.989 moradores. Contando com a presença de mais mulheres do que homens, 62,1% dos moradores declararam-se pretos ou pardos. “As favelas são espaços bastante heterogêneos, mas são vistas pela sociedade brasileira de forma generalizada como o lócus da pobreza, da desorganização social, do crime (Zaluar, 1985; Leite, 2000; Machado Da Silva, 2002 apud Franco, 2012). O IBGE retomou o uso do termo “favela” no ano de 2024, em substituição a “Aglomerados Subnormais” utilizado no último censo, sob o então governo de Jair Bolsonaro. É importante destacar que a discussão sobre favela aqui feita é baseada na dissertação de Marielle Franco entitulada “UPP: a redução da favela em três letras” (2012). É nas favelas que a experiência do coletivo se materializa em expressão de vida e resistência. As manifestações artísticas e culturais que surgem das favelas revelam a pluralidade de sujeitos e de identidades constituídas nesses espaços. Os “favelados”, como são chamados os moradores de favelas, revelam não só demarcação territorial do espaço físico, como também exprime o estigma social acerca de um comportamento e/ou expressão identitária atribuída a um sujeito ou grupo. “(...), a favela se apresenta com a riqueza da sua pluralidade de convivências de sujeitos sociais em suas diferenças culturais, simbólicas e humanas.” (Silva, et al., 2009, p.96-97). Para Souza Santos (p. 15, 1973), “a favela é um espaço territorial, cuja relativa autonomia decorre, entre outros fatores, da ilegalidade coletiva da habitação à luz do direito oficial brasileiro”. Ou seja, até assumir o lugar de ilegal perante o Estado é uma experiencia coletiva nas favelas. A realização do seminário “O que é favela, afinal?”, em 2009, feita pelo Observatório das Favelas e com o apoio do BNDES, produziu um documento com o objetivo de trazer luz à definição de favelas a partir de um olhar que não partisse da condição da falta, da ausência, da carência e da miséria. “Estes pressupostos (...) tomam como significante aquilo que a favela não é em comparação ao modelo idealizado de cidade” (p. 21). Ao analisar o documento, redigiu-se 4 formulações para a definição de favela:
1. Considerando o perfil sociopolítico, a favela é um território onde a incompletude de políticas e de ações do Estado se fazem historicamente recorrentes. Portanto, territórios sem garantias de efetivação de direitos sociais. 2. Considerando o perfil socioeconômico, a favela é um território onde os investimentos do mercado formal são precários, principalmente o imobiliário, o financeiro e o de serviços. Predominam as relações informais de geração de trabalho e renda, com elevadas taxas de subemprego e desemprego, quando comparadas aos demais bairros da cidade. Há distâncias entre as condições presentes na cidade como um todo. 3. Considerando o perfil sócio e urbanístico, a favela é um território de edificações predominantemente caracterizadas pela verticalização e autoconstrução, sem obediência aos padrões urbanos normativos do Estado. A apropriação social do território é configurada especialmente para fins de moradia. A favela significa uma morada urbana que resume as condições desiguais da urbanização brasileira e, ao mesmo tempo, a luta de cidadãos pelo legítimo direito de habitar a cidade. 4. Considerando o perfil sociocultural, a favela é um território de expressiva presença de negros (pardos e pretos) e descendentes de indígenas, de acordo com região brasileira, configurando identidades plurais no plano da existência material e simbólica. As diferentes manifestações culturais, artísticas e de lazer na favela possuem um forte caráter de convivência social, com acentuado uso de espaços comuns, definindo uma experiência de sociabilidade diversa do conjunto da cidade.
Tendo como pano de fundo o conceito de necropolítica, as favelas são diretamente ligadas à escravidão e à colonização, já que foi formada a partir negras e negros recém libertos ou fugidos, que não receberam nenhuma medida governamental básica para a subsistência de suas famílias. Primeiro, ocupando os prédios abandonados da cidade, os negros e negras jogados na rua formaram grandes coletivos de famílias morando sob o mesmo teto, conhecidos como cortiços. Depois da Reforma Pereira Passos, as favelas e morros foram ocupadas em crescente exponencial, longe de pertencerem à estética ideal de cidade europeia nos trópicos. Com eles juntaram-se os indígenas e seus descendentes, e em menor número, os imigrantes brancos pobres. A população LGBTQIA+, historicamente renegada pelo Estado e pelo seio familiar tradicional, também pertence ao grupo que compõe a estatística de moradores de favelas, em especial a comunidade travesti. Esses sujeitos são tidos pelo Estado como corpos matáveis (Mbembe, 2018b) porque a sua vida se tornou um objeto, o que justifica que ela seja destituída, como faziam com o tráfico de seres humanos para o trabalho escravo nas colônias europeias. (Op. Cit.) A segregação socioespacial das favelas é um processo planejado para a construção de fronteiras sociais, onde preconceito e racismo estão interligados, à medida que esses espaços se constituem enquanto refúgio de uns e espaços totalmente precarizados para outros, assim como eram os quilombos. “O quilombo é o primeiro espaço criminalizado no Rio de Janeiro, onde escravos negros resistiam à ordem vigente no Brasil Império” (Dos Santos, 2018, P. 133). A diferença é, para o geógrafo Adrelino Campos, que as favelas se constituíram enquanto parte de um sistema simbólico, e os quilombos são o meio pelo qual as ideias de materializam (Da Silva, 2020, p. 13-15)
“É o estado penal criminalizando as populações pobres, acrescidas de características étnicas específicas.” (Franco, p.97, 2012)
2- Maré
A favela da Maré começou a ser ocupada em 1940, com a comunidade do Morro do Timbau. De acordo com o Dicionário de Favelas Marielle Franco, a tradição oral conta que sua primeira moradora foi Orosina Vieira, que gostou do que viu enquanto passeava em um domingo na praia de Inhaúma, uma encosta desocupada aos pés da Baía de Guanabara. Ali construiu o primeiro barraco do morro com pedaços de madeira trazidos pela maré. As obras de abertura da Avenida Brasil trouxeram mais visibilidade ao território e facilitou o transporte de materiais para construção das moradias e, em 1947, foi instalado o 1º Batalhão de Carros de Combate (BCC) nos arredores do Morro, atualmente o CPOR do Exército Brasileiro (Centros de Preparação de Oficiais da Reserva). O Exército começou a controlar a entrada e saída de moradores, cobravam taxa de moradia, fiscalizavam as construções – não era permitido nenhuma construção de alvenaria, apenas madeiras, para que fossem retirados quando julgassem necessário – e ditavam se haveria ou não melhorias no saneamento básico da população. A partir desse contexto de repressão, a favela da Maré foi palco do surgimento de uma das primeiras associações de moradores de favelas do Rio de Janeiro. Formada majoritariamente por pessoas pretas e pardas, os movimentos negros na Maré começaram como uma forma de associação entre pessoas para garantir direitos básicos a si mesmos e aos outros membros da comunidade. Dona Helena Edir, mulher negra de 73 anos, migrante de Minas Gerais, entrevistada por Marcos Diniz para o livro eletrônico “Identidades e Racialidades na Maré: práticas e experiências racializadas na Maré”, conta que chegou na Maré na época dos mutirões. “Quando realizavam aquelas assembleias até meia-noite, saindo dali um representante, uma pessoa que iria à CEDAE, e depois voltavam os resultados, isso fazia com que mais pessoas se unissem nas assembleias e mobilização”. Quando perguntada sobre a ancestralidade africana na Maré, Dona Helena segue justificando com o sentimento de coletividade: “às vezes, a mobilização não tinha nada a ver com a rua 4 porque o mutirão era na rua 3, mas todo mundo ia ajudar o outro. Quando iam bater as lajes, todo mundo se juntava e ia fazer a laje daquela pessoa, independente de quem era”. A solidariedade entre vizinhos, na Maré, pode ser relacionada a ancestralidade africana a partir do contexto afrodiaspórico, já que a grande maioria dos moradores da Maré declaram-se negros. Para além, a maioria dos negros são mulheres. Com esses dados, podemos relembrar o papel da liderança feminina frente aos quilombos que, com afeto e virilidade, mudaram o cenário da colonização. Sendo as favelas os "novos quilombos" (Da Silva, 2020), a solidariedade entre pessoas negras se expande para o cenário contemporâneo.
Referência Bibliográfica
O que é favela, afinal?. Oganizador: Jailson de Souza e Silva. - Rio de Janeiro: Observatório de Favelas do Rio de Janerio, 2009.
MBEMBE, Achile. Necropolítica. São Paulo, São Paulo: n-1 edições, 2018.
FRANCO, Marielle. UPP: a redução da favela a três letras: uma análise da política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. 2018.
DA SILVA, Catia Antonia. Andrelino Campos- do quilombo à favela, do espaço periférico segregado à teoria do sujeito e a análise do lugar do negro na segregação socialmente induzida. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN), v. 12, n. 34, p. 13-31, 2020.
DOS SANTOS, Rafael Silva. Braço forte na ocupação da Maré e a “mão amiga” a serviço do capital: o paradigma da segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. Revista Ciências Humanas, v. 11, n. 1, 2018.
SOUZA SANTOS, 1973. In: Introdução ao direito. Especialização em Direitos Humanos e Contemporaneidade. Julio Cesar de Sá da Rocha e Amanda Souza Barbosa. Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2023.