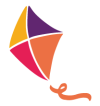De quem é o problema?
A cidade do Rio de Janeiro pode ser considerada um modelo nacional no que se refere à segregação espacial das classes sociais, essencialmente por ter sido durante grande parte da história brasileira a grande capital nacional,serviu como um verdadeiro laboratório de reformas, assim como a realizada por Pereira Passos no início do século XX, reformas inspiradas no modelo arquitetônico de Paris e que culminava na expulsão dos trabalhadores do centro.
Na história recente, o Rio de Janeiro, mais precisamente no período em que o Brasil estava sob intervenção da ditadura militar, foi constituída uma política sistemática, a Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana (CHISAM). A CHISAM, promoveu o maior programa de remoção de favelas que o Rio de Janeiro já teve, projeto que desalojou cerca de 175 mil moradores de 62 favelas. As remoções foram legitimadas em razão das moradias serem de posses ilegais (informais) e justificado por uma “preocupação” acerca da insalubridade e irreversibilidade da situação do favelado. O estado foi um agente determinante, forçaram as milhares de famílias a um novo local de moradia que fossem fora das áreas nobres da cidade com a promessa de um novo lar, agora, em uma situação legal, além de praças e escolas. Inclusive, ocorreram misteriosos incêndios em algumas comunidades, o exemplo mais conhecido foi o da favela da Praia do Pinto, território onde a CHISAM atuou primeiro. Apesar da resistência, que se estabeleceu até o dia do incêndio, na Cidade Alta (Cordovil), às margens da avenida Brasil, algumas famílias já haviam se estabelecido após deixar a favela da Praia do Pinto. Embora as autoridades neguem, moradores afirmam que pessoas morreram durante o incêndio, que entre a população da cidade e especialmente da própria favela, foi tido como criminoso e jamais foi esclarecido.
[...] a transferência dos favelados de algumas áreas mais valorizadas da cidade, como Lagoa e Leblon, para os subúrbios distantes aprofundou o processo de diferenciação espacial que constitui a base do sobrelucro de localização que pode ser apropriado pelo capital incorporador. Essa hipótese é reforçada pelo fato de que alguns dos terrenos liberados pelas remoções foram rapidamente vendidos para o aproveitamento por empreendimentos imobiliários de alto e médio portes. O caso mais emblemático é o da Praia do Pinto, que deu lugar ao imenso condomínio conhecido como Selva de Pedra. (PESTANA, 2022, p. 147)
No início do século XXI, podem ser observados diversos discursos que foram disseminados de modo massivo no decorrer da formação das favelas. Primeiramente, as favelas eram tidas como o locus difusor de doenças; posteriormente – essencialmente na década de 1940 – foi vista como um antro imoral pela elite carioca, a favela era vista como um local devasso, onde havia atraso, ambiente da malandragem, da prostituição, do ócio. A partir da década de 1990, a favela ganha um novo estigma, o estigma de “perigo social” que nesse momento está relacionado ao narcotráfico. Todos os “problemas” gerados pela favelas tinham como soluções as remoções .
Uma outra problemática vivenciada pelo estado fluminense e que também está relacionada as desigualdades sociais que são vigentes em nossa sociedade, é a chuva, uma vez que as favelas são transformadas em um risco para o restante da sociedade, a “preocupação” com essa população torna-se um argumento eficaz para dar fim a esses espaços.
Primeiro lugar, há um esforço em circunscrever temporalmente o fenômeno ao dia específico do evento ameaçante, como por exemplo, as fortes chuvas, sem levar em consideração as razões sociais e políticas que conduziram ao desastre. Em segundo lugar, o esforço discursivo de comprovar a volta da normalidade acaba desmobilizando a opinião pública sobre as causas estruturais dos desastres e oculta, de um lado, a realidade daquelas diretamente atingidos pelo evento e, de outro ado, a precária resposta dos poderes públicos ao problema. (GONÇALVES, 2015, p. 101)
Na década de 80, novas enxurradas assolaram a cidade, assim como muitas mudanças aconteceram nas políticas voltadas para as favelas. O projeto de erradicação de favelas foi paulatinamente substituído, com o processo de democratização, por iniciativas voltadas para a urbanização e consolidação. A cidade do Rio de Janeiro virou um grande laboratório de iniciativas de urbanização de favelas, que envolveram diferentes entes federativos. .
As chuvas de 1988, por sua vez, suscitaram um questionamento da política de urbanização das favelas, que se consolidara no Rio de Janeiro desde final da década de 1970. A maior segurança jurídica dos moradores, com o fim das remoções, como analisamos, trouxe também uma mudança significativa na paisagem das favelas: casas construídas com materiais precários deram paulatinamente lugar a casas e prédios em alvenaria, ou seja, a favela amplamente evocado o fato de que as favelas parcialmente urbanizadas tinham sido consideravelmente menos impactadas pelas chuvas. .
Todavia, com as chuvas de 2010 que assolaram a metrópole fluminense. A maré alta, a forte precipitação e o ineficaz sistema de escoamento das águas pluviais pararam a cidade, como nas chuvas anteriores, os morros da cidade foram os mais castigados pela enxurrada. A opinião pública voltou-se contra as favelas e seus habitantes, fazendo destes os grandes responsáveis pela amplitude do drama, logo, mais uma vez, evoca-se as chuvas anteriores para justificar o retorno das remoções. O discurso pelas remoções se explica, antes de tudo, em razão da desqualificação de toda e qualquer iniciativa voltada para a urbanização. O globo, do dia 10 de abril de 2010, afirmou que as recentes chuvas desafiavam o princípio da urbanização das favelas, especialmente devido ao fato de que certos desabamentos ocorreram em áreas que já haviam sido reabilitadas pela prefeitura, inclusive com obras de contenção de encostas. Todavia, o jornal ignorou que os investimentos municipais contra deslizamentos no Rio de Janeiro haviam sido diminuídos há alguns anos, e que os últimos trabalhos realizados em grande escala de urbanização de favelas – o projeto Favela Bairro – ocorreram durante os anos 1990 e, desde então, não houve uma continuidade para se ter uma conservação e manutenção dessas intervenções.
Apesar da tragédia acontecida em 2010 ter feito com que houvesse o retorno dos investimentos da prefeitura nas políticas de contenção de encostas e corroborado para a construção do Centro de Operação do Rio, no final do corrente ano, para que fosse possível o monitoramento do cotidiano da cidade. Ainda teve o projeto complementar de instalações de sirenes de alerta nas favelas da cidade para evacuar de modo eficaz e rápido os moradores de áreas consideradas de risco, no momento que a precipitação das chuvas for elevada. Já o projeto de urbanização da prefeitura, denominado de Morar carioca, não foi prosseguido, ou seja, as intervenções se revestem novamente de um caráter fragmentado e pontual. As chuvas contribuíram para revelar mais um traço dos conflitos de classe existente na sociedade brasileira. A grande aporia carioca – urbanizar ou remover as favelas – se manifestou com força em contextos de desastres. Há comunidades inteiras vivendo sob riscos, à parte os agravos ao meio ambiente decorrentes da degradação de áreas preserváveis. [...]. O combate ao problema pressupõe ações de desfavelização de áreas já ocupadas. É política a ser elaborada urgentemente, para prevenir a repetição do drama atual.
Vale ressaltar que as chuvas de 2010, ocorreram logo no período após o Rio de Janeiro ter sido eleito como sede de diversos eventos internacionais. Ao refletir sobre esse contexto, é evidente que a cidade entrou em uma novo momento de remoção de favelas, antes mesmo de toda tragédia das chuvas, uma vez que anteriormente (2009) foram anunciados abertamente pelo plano estratégico, projeto que objetivava-se reduzir o espaço ocupado pelas favelas em 3,5% até o ano 2016 – ano que o Rio de Janeiro sediaria a Olimpíada. A partir dos dados visto no ano de 2008, a meta de desocupação desses espaços haviam sido aumentadas em 5% no plano estratégico de 2013. As chuvas acabou tornando-se um instrumento fundamental, no que se refere a noção do risco, colaborando para que o agente estatal pudesse alcançar tal objetivo.
Ao refletir sobre todos esses processos, considerações, surgem a percepção da grande flexibilidade e docilidade do aparato estatal brasileiro aos interesses das classes dominantes, detentora do poder, através de diversos meios, seja no que se refere ao estabelecimento de canais de diálogo como mídias de comunicação – o Globo, seja no que se refere diretamente à aplicação das políticas públicas – CHISAM. O aparelho de Estado configurou-se como um espaço de constantes disputas e convenções entre os distintos setores das classes burguesas, ao fomentar uma cadeia de mecanismos para que possa impedir as possibilidades de intervenção dos movimentos populares nesse processo. .
Por fim, recorro novamente a Lefebvre e sua obra, Direito à cidade, em que ele aponta que os trabalhadores periféricos que enfrentavam em sua jornada diária de trabalho longas horas de transporte público, eram vitimas de um espaço regulado, um estilo de vida que impossibilita o lazer, a felicidade. Logo, o direito à cidade consiste como um conceito que se opõe à alienação estimulado fundamentalmente pelas classes mais abastadas e compactuados por agentes públicos que são fomentadores burocráticos de uma urbanização desenfreada e regulatória. Portanto, no âmbito da ação política para uma vida ativa é de suma importância observar os lugares, das áreas de identidade que reproduzem o cotidiano da prática social, tornar a cultura popular o fundamento principal, a cidade como um local de encontros, de uso e não meramente de mercadoria. Somente através do redesenho de espaços públicos, uma cidade que adaptada para as necessidades de seus moradores tornam instrumento eficaz para a promoção da sociabilidade e principalmente no controle da violência urbana.
Referência Bibliográfica:
ARQUIVO NACIONAL [org]. Em meio ao Caos. Que república é essa?, 2019. Disponível em: http://querepublicaeessa.an.gov.br/temas/68-historia/117-em-meio-ao-caos.html. Acesso em: 11 jun. 2023 COELHO, Frederico Oliveira. “Espaço Urbano e Música Popular no Rio de Janeiro: Diálogos e conflitos”. In: Arquivo Nacional [org]. Cidades. Rio de Janeiro: Acervo: Revista do Arquivo Nacional, v.17, n.1, jan/jun, 2004. GONÇALVES, Rafael Soares. São as águas de março fechando o verão: chuvas e políticas urbanas nas favelas cariocas. Rio de Janeiro: Acervo: Revista do Arquivo Nacional, 2015, p. 101
LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. Itapevi, SP: Editora Centauro, 2001 [1969]. Capítulos: “Especificidade da cidade – A cidade e a obra” (pp.51-56); “Continuidades e descontinuidades” (pp.57-64); e “O Direito à Cidade” (pp.105-118).
MARX, Karl. O caráter fetichista da mercadoria e seu segredo
NETO, Manoel Lemes da Silva. “Cidades Inteiras de Homens Inteiros: O espaço urbano na obra de Milton Santos”. In: Acervo: Revista do Arquivo Nacional [org]. Cidades. Rio de Janeiro: Acervo: Arquivo Nacional, v. 17, n. 1, jan/jun, 2004. PESTANA, Marco Marques. Remoções de favelas no Rio de Janeiro: empresários, Estado e Movimento de favelados, 1957-1973. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2022.
SANTOS, Milton. Pensando o espaço do homem. São Paulo: Hucitec, 1982.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo; razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996
SILVA, Catia Antonia da. Produção geográfica e novos recortes socioespaciais nas lutas, nas resistências e nas contra-hegemonias: reflexões sobre sujeitos e comunidades tradicionais no espaço brasileiro. Revista da ANPEGE. v. 16. no. 30, pp. 170-189, 2020.
TAVARES, Alessandra. A Escola de Samba “tira o negro da informalidade”: Agências e associativismos negros a partir da trajetória de Mano Eloy (1930-1940). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2022.
VITAL, Christina. “O Problema” Favela Ontem e Hoje: Novas falas dos moradores. Rio de Janeiro: Acervo: Revista do Arquivo Nacional, v.17, no1, jan.-jun., 2004.