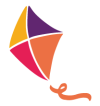Participação Popular em Saúde
De acordo com Cunha (2018) categorias como “gestão participativa”, “metodologia participativa” e “participação popular”, são integrantes de uma gramática política contemporânea, a qual atravessa os mais diversos movimentos sociais. Alguns analistas passaram a defender a causa do setor derrotado do Movimento Popular em Saúde (MOPS), na qual a institucionalização representava uma ameaça à efetiva participação popular, numa postura autonomista, como pontua Gerschman (2004). Por outro lado, começaram a afirmar que temos de fato, “conselhos de favores”, como postula Pereira Neto (2012) ou que em última instância, os conselhos legitimam a ordem burguesa, de acordo com Paniago (2006). Sayago (2000, p. 43) avança sobre a qualificação da participação, estabelecendo seis tipologias do ponto de vista da forma - participação individual, participação coletiva, participação passiva, participação ativa, participação voluntária e participação instrumental. Por sua vez, Serapioni (2014) entende que na perspectiva da governança, o Estado deveria redefinir a relação com a sociedade civil, por meio da institucionalização do que chamou de “participação cidadã nas decisões do governo”. Esse autor esclarece que diversos países implementaram método e dispositivos nessa linha, tais como conselhos, comitês, conferências e fóruns, objetivando incentivar a participação de representantes de associações e sociedade civil na elaboração de políticas públicas. O que chamou de “reconhecimentos dos direitos dos cidadãos”, teria tido início no contexto dos sistemas de saúde na década de 1970, quando a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), indicaram a participação como uma das diretrizes fulcrais para a garantia da sua campanha “Saúde para Todos no Ano 2000”. Portanto, a participação popular possui uma dimensão sociopolítica, podendo ser compreendida como direito garantido na Constituição Federal de 1988, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).