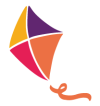Dona Lurdes
Identidade e Representação
Nasci e cresci no Boaçu e desde criança passo pelo Campo Dona Lurdes. Lembro de quando passava entre a rua 29 de Outubro até a rua 40 para chegar à escolinha e via crianças mais velhas jogando futebol no campo. Não tinha placa para dizer que esse era o nome do campo, mas estava na boca do povo, correndo pela memória da comunidade, que desde sua inauguração, em meados de 1958, é atribuído como ponto de referência. O que me intrigava era o nome do campo e secretamente me indagava “por que um campo de futebol tem nome de vó?”. Meu nome é Yasmin Retamiro, sou graduanda em filosofia com práticas em licenciatura, e talvez a perspectiva que tenho do meu bairro fosse outra, se ainda na infância soubesse quem foi Dona Lurdes.
Origem da pesquisa
A curiosidade por essa personalidade, impressa na memória da comunidade, me aproximou de parentes e amigos de Dona Lurdes. A disciplina de extensão Educação Popular em Favelas e Periferias do departamento de pedagogia da Universidade Federal Fluminense e a parceria com a produtora audiovisual independente Campany Studio, fizeram o desenvolvimento dessa aproximação para essa publicação e a um documentário atualmente em execução. Com isso, tive a oportunidade de entrevistar a filha de Dona Maria de Lurdes Siqueira, a Kátia Regina Siqueira, quem nos cedeu informações preciosas acerca do poder de execução que sua mãe atingiu na comunidade. Pude aproximar essa característica à primeira discussão da disciplina sobre o livro de Marcelo Badaró Matos, Trabalhadores e Sindicatos no Brasil (2009), pois para que Dona Lurdes pudesse desempenhar a transformação assistencial foi preciso reunir os moradores locais para decidirem sobre a reivindicação e implementação de políticas públicas para lugar. Na página 22 do mesmo livro, Badaró apresenta uma particularidade da vida comunal que chama de 'mutuais', cuja semelhança percebi na prática da educadora popular, pois sua trajetória foi marcada por acolhimento, generosidade, solidariedade e empatia. Também entrevistamos os netos, que chamamos de “os crias” de Dona Lurdes, filhos de Katia: Douglas Carly, Cássia e Kamila, além do Alexandre, que é o primo que teve a criação conjunta a eles. Outras entrevistas foram feitas com os personagens mais velhos da história, que chamamos de “os origens”, como seu Carlos e Ana Elsa.
Histórico de luta popular
Para que se concretizasse a luta popular, Dona Maria de Lurdes Siqueira e outros moradores ocupavam o hall da prefeitura de São Gonçalo dispostos a reivindicar instrumentos para melhorias da comunidade. Esse vínculo com a comunidade constitui o poder de atuação e compreensão do que Antonio Gramsci em Cadernos do Cárcere, volume III, caderno 13, (2011), chama de pequena política e grande política (p. 21). No contato com a Prefeitura, conheceu o Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização), que entre os anos 70 e 80 assistiu financeiramente à escolinha de Dona Lurdes, sendo esse um bom exemplo de exercício de grande política sendo aplicada à pequena política. Por exemplo, o MOBRAL foi um programa que defendia o ensino através da linguagem técnica da norma culta do português, sem considerar o contexto cultural dos aprendizes. Porém, Dona Lurdes utilizou o programa para obter auxílio financeiro destinado a seguir com a escolinha, onde ensinava de acordo com o cotidiano dos alunos. Podemos analisar a pratica de ensino de Dona Lurdes com a prática de Paulo Freire (1967), que implica em utilizar modos de compreender conhecimentos complexos do mundo em relação ao meio cultural que cercam os sujeitos. A metodologia de Freire tem como base a teoria contida no subcapítulo “seleção técnica e seleção social” do livro A Reprodução dos autores Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron (1992). Em suma, Dona Lurdes não separava o coletivo dessas instancias políticas, porque ela organizava um movimento político coletivo.
Foi nessa aproximação do exercício público do poder, que conseguiu dar início à capina, limpeza e nivelamento do terreno que viria a ser o campo de futebol. Posso ressaltar a característica marginal do território e da educação do lugar na época, pelo caráter de clandestinidade que se iniciou o processo de agrupamento popular, na casa da Dona Lurdes. Essa casa era o lugar onde crianças, jovens e adultos eram alfabetizados, onde se alimentavam, onde abasteciam suas casas com água de poço, onde lavavam roupa, onde apaziguavam brigas, onde buscavam ajuda. É preciso lembrar que, assim como a maior parte do bairro, o espaço do campo era um espaço baldio contendo um matagal que foi limpo pela condução do trator de um dos moradores, Seu Geraldo Tratorista. O campo se tornou um ponto de lazer da comunidade tendo como time principal o “14 de setembro”, nome adotado em homenagem ao nascimento de Dona Lurdes. Ela era técnica e diretora do time, que veio a ser conhecido como um time campeão, realizando muitos campeonatos pela região.
Cronologia
Dona Lurdes foi uma educadora popular, que atuou na região do Boaçu, em São Gonçalo. Mineira, nascida em 1937, aos 16 anos Maria de Lurdes migrou para o Rio de Janeiro estabelecendo-se no bairro Tijuca, para trabalhar na casa de uma família alemã, que era proprietária de uma empresa de transporte de mercadorias. Nessa casa conheceu um caminhoneiro funcionário da empresa dessa família, Carly Siqueira, que posteriormente ficou conhecido com seu Carlinhos Cambalhota. Após 2 anos, Lurdes e Carly e decidiram morar em uma cidade satélite, São Gonçalo, onde poderiam construir junto aos familiares do marido, no Boaçu. Em 1956, São Gonçalo era uma terra pouco habitada, porém as empresas tinham interesses econômicos em ascensão, por causa de sua localização estratégica entre os dois centros comerciais: Niterói e o centro da cidade do Rio de Janeiro. Sem demarcação territorial os trabalhadores fizeram dos morros suas moradias. No livro de Licia do Prado Valladares, A Invenção da Favela (2005), é possível explorar a gênese das favelas cariocas e os fatos que sobre elas se impõem, tal como a especulação imobiliária em crescimento entre as Zonas Norte e Sul do então distrito federal até a década de 60 e as alterações provocadas no período da ditadura militar no Brasil. Nessa época, o Boaçu era uma área, pouco assistida pelo Estado. Era uma região de mata, morro e mangue, cortada pelo o rio Imboaçu, que intitula o bairro.
Como era uma mulher disciplinada na organização católica, Dona Lurdes se aproximou do pequeno templo católico do Boaçu e ajudou na construção da até então Paróquia Nossa Senhora do Pilar. Ela recebeu incentivos do sacerdócio para realizar o trabalho de educadora, onde atuava dentro da igreja. Essa é uma relação de coerção e consenso que em Cadernos do Cárcere, volume I, caderno 11, (1999), Antonio Gramsci estabelece como pilares da disputa pela hegemonia, nesse caso feita pela instituição religiosa. No Rio de Janeiro, esse aspecto é historicamente detalhado por Valladares (2005) sobre a origem do trabalho de assistencial com o serviço de apoio social fornecido pela instituição católica para apoio e guarida.
Com a assistência deficiente do aparelho público do Estado, as famílias da região careciam de saneamento básico, escolas, hospitais, nutrição de qualidade e, principalmente, água potável. Por isso, não demorou para que Dona Lurdes transformasse do quintal de sua casa em uma escola, e posteriormente, criou o campo de futebol. Anos depois, Dona Lurdes e seu Carlinhos abriram um poço artesiano, que servia água potável para toda comunidade. Os moradores faziam filas para encher caçambas e latões, que as mulheres carregavam na cabeça ou em “balanças”, enquanto as crianças usavam pequenas latas com alças improvisadas. Na mesma época, devido a demanda, seu Carlinhos construiu tanques para lavar roupa, facilitando a vida das mães que levavam os filhos para a escolinha de Dona Lurdes. O poço mina água potável até os dias de hoje. O casal também organizava festas para celebrar as vitórias nos campeonatos do 14 de Setembro e a tradicional Festa Junina "Arraiá do Cambalhota". O apelido "Cambalhota" surgiu porque, a cada gol do time de Dona Lurdes, seu Carlinhos comemorava com diversas cambalhotas pelo campo.
A casa de Dona Lurdes, foi construída com a humildade comum das casas em territórios periféricos marginalizados, continha, porém, uma dispensa para acomodar sacas de 60kg de cereais, que serviam de alimento para a população. Além disso, tinha uma horta nos fundos, um chiqueiro ao lado, um galinheiro na entrada e árvores frutíferas pelo quintal, que serviam de alimento cotidiano à comunidade e aos alunos da escolinha, e alimentavam, principalmente, as festividades e campeonatos. Assim como Antonio Gramsci (1999) considera que o ensino em âmbito prático, como trabalhadores, de modo que o indivíduo em sua relação com o trabalho consiga media-lo com o mundo (p. 101 e 102), esse processo pode ser percebido em Dona Lurdes, como trabalhadora, intelectual orgânica, que em sua formação de dirigentes ligou-se à formação de dirigidos e futuros dirigentes. Atualmente toda família de Dona Lurdes exerce a prática de trabalho pedagógico em muitos setores da comunidade. Sua filha, a professora Kátia Regina Siqueira é uma liderança local, no exercício de diretora do Movimento de Mulheres de São Gonçalo e diretora executiva do Fórum de Economia Popular e Solidária de São Gonçalo.
Pela primeira vez o campo foi reformado entre setembro e dezembro de 2024. Como vimos no livro de Vitor Vicent Valla, Educação e Favela (1986), as táticas de controle crescem com os movimentos sociais, o que pode explicar a presença ambiciosa do Estado não com fins de melhorias básicas para a população ainda imersa à precariedade, mas com investimentos superficiais afim de aquisitar votos. Assim como exposto no livro, essa é uma maneira de organização da segurança pública aproximar-se das organizações populares como estratégia de desarticulação das organizações sociais.
BIBLIOGRAFIA
BADARÓ, Marcelo. Trabalhadores e Sindicatos no Brasil. São Paulo, SP: Editora Expressão Popular, 2009.
BOURDIEU, Bourdieu. PASSERON, Jean-Claude. A Reprodução: elementos para uma teoria do sistema do ensino. Rio de Janeiro, RJ: Francisco Alves Editora, 3a edição, 1992.
FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro, RJ: Editora Paz e Terra, 1967.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere, volume 1: Introdução ao estudo da filosofia. A filosofia de Benedetto Croce. Rio de Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 1999.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere, volume 1: Introdução ao estudo da filosofia. A filosofia de Benedetto Croce. Rio de Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 3a edição, 2011.
VALLA, Vitor Vicent. Educação e Favela: políticas para as favelas do Rio de Janeiro, 1940-1985. Rio de Janeiro, RJ: Editora Vozes e ABRASCO, 1986.
VALLADARES, Licia do Prado. A Invenção das Favelas: Do mito de origem a favela.com. Rio de Janeiro, RJ: Editora FGV, 2005.