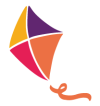O pensamento interseccional e a permanência política de mulheres negras em favelas no Rio de Janeiro (RJ)
Sobre
O texto a seguir busca solidificar a relação entre a vertente interseccional do pensamento feminista e a luta de mulheres negras inseridas em favelas do Rio de Janeiro. A oportunidade de abordar a configuração das favela cariocas a partir da perspectiva feminina e negra significa resgatar memórias e coletividades que foram invisibilizadas historicamente perante a sociedade capitalista.
A historicidade marginalizada e matrilinearidade negra nas favelas
Historicamente, os espaços favelados carregam diversos estigmas marcados pelo sistema racista e elitista da sociedade que garante a ascensão das desigualdades sociais e econômicas nessas localidades, visando a perpetuação da classe dominante. Na década de 1880, já no início da ocupação da primeira favela do Rio de Janeiro, no Morro da Providência, a localidade e a sua população foram associadas a um perfil marginal em relação ao restante da cidade. Localizado no bairro da Gamboa, centro da cidade do Rio de Janeiro, o Morro da Providência teve sua ocupação inicial feita por combatentes que voltaram da Guerra de Canudos e se instalaram no morro para pressionar o Ministério da Guerra a lhes pagar os soldos devidos (Valladares, 2000). Muito devido ao histórico da ainda recente Guerra de Canudos, o Morro da Providência foi imediatamente associado à região pelas mídias e literaturas da época, adquirindo os mesmos estigmas urbanos e sociais que assolaram a história do assentamento baiano. A Guerra de Canudos foi uma série de conflitos armados entre o exército da Primeira República e sertanejos baianos da comunidade de Canudos devido ao receio do governo em relação ao crescimento acelerado do assentamento e a ascensão da figura popular e carismática de Antônio Conselheiro, líder da resistência de Canudos. Ao mesmo tempo, a ascensão do pensamento higienista com a sua atuação fortificada na confecção de leis sanitaristas e na destruição de cortiços e “cabeças de porco” no centro da cidade, passou a associar a favela a ambientes extremamente precários, ligados à pobreza, desordem e à falta de higiene. Assim como Canudos, uma vez que as favelas passaram a se organizar coletivamente enquanto comunidade, elas passaram a representar uma ameaça para a configuração de sociedade que exercia poder fora do perímetro dos morros. Ao desenvolver suas próprias regras e seus conceitos de ordem social e moral, os moradores das favelas passaram a exercer resistência diante do julgamento institucionalizado da sociedade da época (VALLADARES, 2000). Frente a isto, as instituições de poder e a população fora do perímetro das periferias passou a qualificar as favelas como um problema a ser enfrentado e extinto ao longo do tempo (CARDOSO; JAENISCH; MELLO; GRAZIA, 2015), e desqualificá-las enquanto um local político dotado de produções socioespaciais legítimas. Observando por meio de outras lentes de análise, os corpos femininos também se enquadram neste contexto de repressão e exploração dentro do sistema hegemônico. Esta conjuntura resulta em um cruzamento de opressões que formulam quais narrativas devem ascender e quais devem sucumbir. Traçando uma análise a partir das perspectivas de gênero, raça, classe e trabalho dentro da constituição histórica das favelas de forma a enaltecer o os sujeitos políticos que mais atuam na produção socioespacial dessas localidades e, também, que mais confrontam com o ideal conservador da sociedade capitalista incutido intrinsecamente na moral coletiva, a mulher negra surge como protagonista. Segundo o censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2022, o panorama de gênero da população residente em favelas no Rio de Janeiro se divide por volta de seiscentos e quarenta mil homens e mais de setecentas e seis mil mulheres. Além disso, por volta de trezentos e noventa mil pessoas desta população é composta por pessoas autodeclaradas brancas, enquanto mais de novecentos e cinquenta mil pessoas se autodeclaram pretas ou pardas, quase o triplo da população branca. Ainda com base na tabela abaixo (Tabela 1), a população da cidade do Rio de Janeiro é formada por mais de quarenta e nove mil mulheres negras, sendo que a sua população total é de aproximadamente um milhão e trezentas pessoas, correspondendo a 36,68% de toda a população da favela.
Já segundo o censo do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) de 2023, por volta de dois mil e setecentas famílias são chefiadas por mulheres na Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, principalmente na condição de domicílios nucleares (Tabela 2), em que se destacam as constituições familiares formadas somente por mães e seus filhos. Em contrapartida, por volta de dois mil e duzentas famílias possuem um homem como o responsável do domicílio. Em escala federal, o contraste é ainda mais palpável: são mais de quarenta mil e cem famílias chefiadas por mulheres, enquanto existem um pouco menos de trinta e sete mil e quinhentas famílias chefiadas por homens (Tabela 2).
É importante desmembrar esses dados em números exatos para ressaltarmos as subjetividades de milhões de mulheres que assumem posições extremamente sensíveis no contexto da análise sociourbana. Nesse sentido, a partir da análise das tabelas, é possível avaliar esses espaços – seja país, estados, municípios ou favelas – com base na matrilinearidade que, segundo Soraya Simões (2011), significa a caracterização por um número expressivo de residências pertencentes e geridas por mulheres em um determinado local, aparecendo como um fenômeno recorrente principalmente em localidades de baixa renda. Diante disso, a trajetória da mulher negra deve ser observada a partir de uma abordagem interseccional que, segundo Manzi e Anjos (2021), compreende diversas opressões cruzadas que formulam os eixos discriminatórios que elas se enquadram – principalmente racial, patriarcal, de classe e trabalho. Além disso, a territorialidade da mulher negra brasileira deve ser compreendida a partir das suas práticas de resistência e de luta, na qual elas ressignificam o espaço por meio das próprias trajetórias (MANZI E ANJOS, 2021). O entendimento da mulher negra enquanto sujeito político aplicado em diferentes contextos pode resultar em quadros divergentes quando colocamos em comparação a vivência favelada e a atuação do Estado. Na favela, a mulher, principalmente a negra, vai surgir como uma peça estrutural na produção do espaço atuando de forma simbólica na construção da identidade local, que aparece constantemente invisibilizada, demonstrando a importância de racializar e generificar o debate na favela. Já quando abordamos a mulher negra diante das articulações do Estado, podemos identificar a mesma como o antagonista do sistema capitalista hegemônico, se apresentando totalmente vulnerável diante das suas possíveis medidas de manutenção e consolidação do domínio da classe dominante.
O pensamento interseccional na mobilização feminista
As mobilizações sociais de mulheres, principalmente de mulheres negras, se tornaram agentes de transformação ao longo dos anos, buscando não apenas direitos específicos, mas também a reconstrução de uma cultura branca e patriarcal de forma a desafiar a ordem estabelecida. Neste sentido, torna-se cada vez mais importante a valorização do olhar periférico e a influência das contribuições latino-americanas e afrodiaspóricas na revisão das abordagens tradicionais. Com base na complexa interseção entre gênero, raça, classe e poder no contexto brasileiro, no que se refere à mulher negra e sua relação com os espaços urbanos favelados, é possível compreender a dinâmica de poder do Estado a partir das condições desafiadoras que a mulher negra enfrenta enquanto perfil central dos eixos discriminatórios do sistema capitalista. No entanto, apesar do cenário brasileiro desfavorável, a mulher negra segue desempenhando papéis complexos e multifacetados nestas localidades, atuando como sujeito político na produção simbólica do espaço periférico, de forma a revelar a importância de abordagens interseccionais na compreensão dessas realidades. Uma vez inseridos no contexto do patriarcado da supremacia branca, os privilégios de raça e classe das mulheres brancas também acabam sendo reforçados pela manutenção do sistema em que as mulheres negras são objetos de sujeição por parte dos homens e de pessoas brancas (HOOKS, 2013). Este fato revela diferenças em relação aos variados perfis femininos dentro do próprio movimento feminista, criando condições distintas entre as mulheres e resultando no distanciamento do alcance de pessoas não-brancas às políticas propagadas pelo feminismo. Bell Hooks (2013) nos convida para um autoquestionamento em seu livro “Ensinando a transgredir”: o que vem primeiro, a feminilidade ou a negritude? O fato do nosso sistema societário ser pautado no sexismo e no patriarcalismo institucionalizado e fornecer diferentes formas de poder aos homens em geral, não inibe as mulheres brancas de exercerem, também, outras formas de poder em relação às mulheres negras. A dominação racial branca no movimento feminista faz com que o tensionamento de políticas voltadas para as mulheres contemple apenas um recorte do que é ser mulher. A falta de entendimento da existência de uma supremacia branca no movimento feminista, ainda resulta em abordagens da negritude que não questionam a posição de quem a aborda. A maioria das mulheres brancas que escrevem teorias feministas focadas na diversidade são livres para fazerem suas análises desapegadas de uma postura experiente em relação à vivência negra. Ou seja, não existe uma reflexão aprofundada se a abordagem feminista de dominação branca realmente nasce de uma postura antirracista e consciente (HOOKS, 2013) ao tratar da heterogeneidade dentro do movimento. Nesse sentido, é importante fomentar o pensamento interseccional não só dentro do pensamento feminista, mas como uma ferramenta necessária de análise das dinâmicas de hiperpressões do sistema capitalista. A reflexão interseccional se propõe a sobrepor os eixos de discriminações e elucida que não as análises não devem ser feitas em grupos distintos de pessoas, mas, sim, sobrepostos (CRENSHAW, 2004). Dado que a visão tradicional das diferenças entre as pessoas e seus tipos de discriminação opera no sentido de abafar esse sistema de sobreposições, é preciso desagregar os dados de raça e gênero e saber diferenciar o que ocorre em função das questões raciais e em função das questões de gênero (CRENSHAW, 2004). Dessa forma, o reconhecimento da interseccionalidade como um pilar fundante da luta feminista é essencial para o enfrentamento coletivo das diferentes angústias e opressões sofridas por mulheres de diferentes raças, classes, origens, orientações sexuais, etnias, e faixas etárias.
A mulher negra e o espaço favelado
As mulheres foram e continuam sendo agentes de mudança nas lutas sociais e políticas que moldaram os espaços favelados ao longo do tempo, o que faz com que suas histórias ganhem novas nuances quando contadas a partir da perspectiva racial e de gênero. Posto isso, a mulher negra surge como um sujeito político imprescindível para a constituição das favelas diante da sua presença ativa na vida urbana cotidiana local. Ao reconhecer e fortalecer o papel dessas mulheres nessas regiões, é possível abordar a historicidade das favelas perante uma ótica que não seja a hegemônica, elitista e patriarcal que perpetua na sociedade capitalista e ressalta os estigmas sociais que acometem estes espaços. Dessa forma, a atuação de mulheres e suas subjetividades na região desempenha um papel fundamental de patrimônio cultural coletivo na construção da identidade na favela e nas suas dinâmicas de apropriação através do tempo. A representação da mulher como sujeito político nessas localidades visa, também, contribuir para a visibilidade urbana de narrativas subversivas em contextos e lugares igualmente insurgentes com o intuito de problematizar o modo de pesquisa hegemônico efetuado na coletividade social e no cenário acadêmico. Da mesma forma, a visibilidade de vivências marginalizadas auxilia a corromper o pensamento eurocêntrico, patriarcal, racista e elitista implementado pelo modo de produção capitalista na sociedade, juntamente com os seus métodos de manutenção de poder, domínio e exploração sobre corpos femininos e negros. O cenário favelado carioca se destaca pelas vivências individuais diversificadas de mulheres que construíram social e culturalmente a localidade e que carregam, por meio de sua memória coletiva, a faceta feminina do cotidiano favelado que segue invisibilizado pelas narrações históricas formalizadas. A posição social enquanto mulher negra ocupada pela maioria das mulheres moradoras de favelas, vivenciam uma rotina ainda mais singular e representativa dentro do contexto favelado. Tendo isso em vista, as diferentes experiências femininas no urbano devem ser relatadas e evidenciadas para que essas narrativas não sejam dissolvidas ao longo da história. Neste sentido, a atuação simbólica da mulher negra na construção da identidade local enfatiza a importância de racializar e generificar o debate acerca da vivência nas favelas. Reafirmar a existência de um processo antigo de feminilização das favelas não é só participar de um processo de reconhecimento de narrativas subalternizadas no espaço urbano ou abordar as pautas do debate de gênero e raça no planejamento regional. Trata-se, inicialmente, de repudiar o sistema racista e patriarcal hegemônico assegurado pelo modo de produção capitalista de forma categórica e incisiva. Refere-se, ainda, às individualidades urbanas exercidas pelas mulheres negras durante seu processo de ocupação, adaptação e construção do ambiente físico e simbólico local. Falar sobre mulheres negras vivenciando e construindo diariamente o cotidiano favelado trata-se de reconhecimento, identidade, organização e ancestralidade.