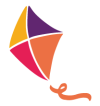Da aldeia à favela: estudo da identidade de índios Pankararu no Real Parque
Este verbete é um resumo da dissertação de Vanessa Abdo França, que aborda a identidade dos indígenas Pankararu, residentes na Favela do Real Parque, em São Paulo, a partir de entrevistas qualitativas. Segundo os entrevistados, o que define ser índio Pankararu é a ascendência, que o local de nascimento não interfere na condição de ser índio, nem as características fenotípicas. Em relação aos não – índios moradores da favela, ora há reconhecimento com a condição de “morador de favela”, ora há distanciamento dessa situação e uma total identificação com a etnia de origem.
Autoria: Dissertação: Vanessa Abdo França[1]. Verbete: Reprodução.
Este conteúdo foi reproduzido pelo Dicionário de Favelas Marielle Franco, de acordo com as licenças Creative Commons vigentes.
Resumo[editar | editar código-fonte]
Apesar deste trabalho tratar de uma população indígena originalmente pernambucana, este tem como pano de fundo a cidade de São Paulo e suas idiossincrasias enquanto zona urbana, metropolitana e com graves desigualdades sociais. O objetivo foi realizar um estudo da Identidade de índios Pankararu residentes na Favela do Real Parque em São Paulo. Para abordar esse assunto foi realizada uma entrevista analisada de forma qualitativa, partindo do pressuposto de que são portadores de um discurso social. A análise do material foi feita à luz da Psicologia Social. Neste trabalho pode - se perceber que para os entrevistados, o que define ser índio Pankararu é a ascendência, que o local de nascimento não interfere na condição de ser índio, nem as características fenotípicas. Em relação aos não – índios moradores da favela, ora há reconhecimento com a condição de “morador de favela”, ora há distanciamento dessa situação e uma total identificação com a etnia de origem. A identificação com a situação de “morar em favela” esta principalmente relacionada aos problemas enfrentados. Assim, a identidade indígena é importante para ir contra a naturalização da pobreza principalmente porque a condição de morador de favela – enquanto identidade é armadilha que facilita a desconstrução da identidade Pankararu.
Introdução[editar | editar código-fonte]
Logo que entrei na faculdade, não tinha intenção de trabalhar com a população indígena, mas sempre tive curiosidade sobre as questões relacionadas à maior participação política, desenvolvimento econômico e de preservação cultural/ambiental de comunidades.
No primeiro ano da faculdade ingressei no PET (Programa de Educação Tutorial)[2] e desenvolvemos um projeto com sem-terras de Pontal do Paranapanema, interior de São Paulo. O PET era responsável pelas oficinas sobre sexualidade.
Em outro momento, entrei no NTC (Núcleo de Trabalhos Comunitários)[3] em um projeto de intervenção com pré-adolescentes da favela do Jardim Pantanal, em Diadema, esta favela é uma das mais violentas da capital, conhecida pelo seqüestro e assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Realizávamos oficinas de teatro para trabalhar questões relacionadas à cidadania.
Pela primeira vez, em 2002, tive contato com a população indígena profissionalmente, participando da organização do evento “Xavante: Uma Imersão Cultural”, cujos objetivos, eram a divulgação dessa cultura indígena, bem como geração de renda. Entretanto, naquela época, não tive a pretensão de me aprofundar nesses estudos.
Em 2003 e 2004, voltei a trabalhar como educadora social pelo NTC, mas desta vez, como sensibilizadora do pensamento Paulo Freire para professores alfabetizadores da rede pública da região norte do Brasil (Pará e Rondônia), no Projeto BB Educar do Banco do Brasil.
Em 2005, já graduada, iniciei em conjunto com um grupo de estudantes e professores da Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP, um projeto de desenvolvimento e consolidação de uma rede de promoção de autonomia comunitária na Favela do Real Parque, em São Paulo.
Este projeto resultou na fundação da Organização Não-Governamental denominada Ninhos – Gestão de projetos educacionais e sociais. Minha função no grupo era auxiliar na organização institucional e na execução de ações específicas envolvendo as diversas entidades locais.
No início desta proposta foi realizado um processo de mapeamento da favela para reconhecimento das entidades locais.
Padilha (2006) apresenta-as:
|
Entidade |
Objetivos |
| Associação de Moradores | Interlocução entre a comunidade e
agentes externos |
| SOS Juventude | Desenvolvimento de oficinas lúdicas,
esportivas e referentes à cidadania. |
| Creche Pássaro Azul | Atendimento às crianças |
| Ação Cultural Indígena Pankararu | Preservação da cultura e dos valores
Pankararu |
Juntas, compunham um fórum de discussão - denominado Barco - com outras entidades parceiras (Casulo/ICE, União de Moradores do Jardim Panorama, Instituto Ninhos). Consolidando uma base integrada, voltada para ações conjuntas e sociais.
Assim, com esta pequena e diversificada experiência profissional, surgiu a vontade de fazer este trabalho levando em consideração a comunidade do Real Parque (que será descrita no capítulo II), bem como, suas organizações.
Como tive bastante contato com a população indígena local, pude perceber os enormes problemas por eles enfrentados visto que fazem parte não apenas de uma minoria oprimida, mas de várias outras: são índios (as) urbanos (as), “favelados (as)”.
Isso despertou minha curiosidade a respeito de seus costumes e principalmente para entender como eles próprios se veem.
Qual é a identidade deste grupo? Como eles se representam? Como se reconhecem?
Por conta do trabalho no Real Parque, me aproximei das lideranças comunitárias, mais precisamente do presidente da ONG Ação Cultural Indígena Pankararu, Dimas.
Assim, ocorre uma maior facilidade de atuação (já que minha participação na comunidade já é rotineira e apoiada pelos moradores) e de uma inserção mais orgânica, visto a aproximação e vinculação com esta população.
No Real Parque, pude acompanhar de perto, alguns dos muitos problemas enfrentados por esta parte da comunidade mais precisamente.
Um episódio específico chamou minha atenção. Há um grande incentivo por parte da ONG Ação Cultural Indígena Pankararu em apresentar seus artesanatos como forma de divulgação da sua cultura e para geração de renda.
Assim, em um importante edifício paulistano, onde frequentemente ocorrem exposições diferenciadas, acompanhei o desenrolar de uma negociação para apresentação dos artesanatos indígenas realizados principalmente pelas mulheres do Real Parque.
O presidente da ONG, que é negro, foi apresentar um conjunto de produtos como, colares, anéis, panos de prato, etc. feitos pela comunidade para serem vendidos no dia. A organizadora do evento perguntou a respeito dos cocares, arcos e flechas.
Ela parecia bastante desconfiada do presidente. Quando informada que o artesanato deles não era este, não permitiu a realização do evento alegando que não se parecia com artefatos indígenas, e que, portanto, não despertava sua curiosidade, o que frustrou a todos na comunidade que alegavam ser sim, esta a origem.
Ou seja, a expectativa da organizadora do evento em relação à população indígena não correspondeu à realidade dos Pankararu[4] residentes na cidade de São Paulo.
A esteriotipia em relação aos índios impossibilita o reconhecimento deles fora do ambiente esperado.
Segundo Goffman (1975): “ser uma determinada espécie de pessoa por conseguinte não consiste meramente em possuir os atributos necessários, mas também em manter os padrões de conduta e aparência que o grupo social do individuo associa a ela”. (p. 74).
Este episódio demonstra a dificuldade de ser índio em São Paulo, onde o estigma sobre o tema é de tal força, que dificulta a auto-definição deles como índios, pois não têm as vestimentas e costumes esperados pelos “civilizados”.
Neste sentido, a importância do reconhecimento do “outro” não - indígena, enquanto o “eu” indígena, não é apenas uma questão isolada, mas trata de legitimar o direito deste grupo perante os não - índios.
Como pode ser visto em Guareschi (2003):
Existe uma grande tendência em aceitarmos a hipótese simplista de que somos oriundos de apenas três raças: negros, índios e brancos. Porém, o Brasil é constituído por diversas raças e a maior ou menor miscigenação entre elas resulta em novas raças. Por outro lado, devido à ausência de estudos com dados qualitativos, dentre outros motivos, as diferenças raciais estiveram descaracterizadas em função dessa miscigenação, vindo, dessa forma, a fortalecer o mito da democracia racial. Os movimentos sociais têm um papel importante no sentido de criarem a necessidade de se pensar em termos de raça, visto que a emergência dessa categoria aponta a tentativa de determinados grupos terem acesso aos bens sociais. (p. 149).
Este trabalho, a meu ver, tem relevância no sentido em que trata da questão indígena de forma a diminuir os estigmas, desmistificar o índio e principalmente para chamar a atenção para este tipo de exclusão. Em Guareschi (2003), há um importante trecho, que apesar de referir-se ao negro, pode ser aplicado à diversidade temática indígena:
O mito da democracia racial, ou seja, a ilusão de que questões raciais não constituem um fator de exclusão, persiste, pois ao mesmo tempo em que práticas sociais incluíram a raça como marcador identitário – no momento em que se utilizam desses marcadores como regras pelas quais um objeto pode ser incluído ou excluído dos regimes de verdade impostos – as relações sociais engendradas nessas práticas excluem o negro. (p.149).
Percebe-se a exclusão do índio Inclusive no meio acadêmico. No caso da Psicologia Social, Silveira (2002) observa:
A quase inexistência de estudos, na Psicologia Social brasileira, voltados para as sociedades indígenas e sua assimilação pela sociedade hegemônica, torna premente a realização de pesquisas nessa área, principalmente quanto à importância de (re)conhecer aspectos que continuam presentes – embora negados – na formação da identidade do povo brasileiro. (p.11).
Levando–se em consideração os poucos estudos encontrados na área e principalmente devido a grande importância da temática, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo da Identidade de índios Pankararu residentes na Favela do Real Parque em São Paulo.
Sendo assim, segue a estrutura que fundamenta esta pesquisa teórica, enfatizando que a escolha de desenvolvê-la sob a ótica da Psicologia Social vai de encontro à idéia de que por trás das ações está a transformação pela igualdade de condições, e não na omissão das diferenças.
O Capítulo I – A favela do Real Parque – mostra o cenário em que o trabalho é desenvolvido. O Capítulo II – Os Pankararu – apresenta quem são os Pankararu. Começa descrevendo brevemente a origem da aldeia, seus costumes, como foi e é a migração para São Paulo e como eles se organizam no Real Parque. O Capítulo III – Identidade – trata brevemente do conceito de Identidade que fundamenta a presente pesquisa. O Capítulo IV – Metodologia de pesquisa – apresenta a metodologia a ser desenvolvida para realização deste. O Capitulo V – Narração e Análise – apresenta os participantes e analisa os dados.
Dissertação completa[editar | editar código-fonte]
Ver também[editar | editar código-fonte]
- População indígena em favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo
- Meu Sangue É Vermelho (documentário)
- Representatividade Indígena no Brasil - Episódio 3 (podcast)
Notas e referências
- ↑ FRANÇA, Vanessa Abdo. Da aldeia à favela: estudo da identidade de índios Pankararu no Real Parque. 2008. 100 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.
- ↑ Programa de Ensino Tutorial, grupo de pesquisa, ensino e extensão financiado pela Secretaria de Ensino Superior, SESu, no qual o aluno bolsista pode entrar no primeiro ano e permanecer até o último.
- ↑ Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC-SP, desenvolve projetos com alunos da universidade para comunidades carentes de diversas regiões do Brasil.
- ↑ A não-flexão do plural na denominação de etnias indígenas ancora-se na justificativa de que acrescentar um s resultaria em hibridismo. Além do mais, há a possibilidade das palavras já estarem no plural, ou, ainda, de que a própria forma plural não exista nas línguas indígenas correspondentes.