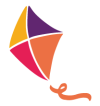Violência rotinizada no Rio de Janeiro e o fazer viver da maternidade periférica
Grande parte da produção sobre os estudos da violência se concentra sobre a agressão, a criminalidade violenta, a dualidade do “asfalto” versus a “rua”, o tráfico e suas respectivas disputas, sendo analisados, geralmente, pela ótica da excepcionalidade (Dias, 2009). Partindo de Gomes (2016) e Das (2020), este verbete tem como objetivo adentrar a violência rotinizada, aquela que passa a ser considerada rotineira, e se insere no aprofundamento da lacuna dos estudos da violência no cotidiano, do processo de construção de rotinas e das alternativas produzidas por mulheres, sobretudo mães, para lidar com os tentáculos da violência em suas diferentes escalas. A realização desta pesquisa é motivada por conversas e interlocuções com mães no espaços de favelas e periferias em constantes tentativas de criar alternativas para fazer viver seus filhos.
Autoria: Alyssa Ribeiro Perpeto Trotte
Maternidade sob o cerco[editar | editar código-fonte]
Todos os dias, quando acorda pela manhã, Liane relata que precisa estar atenta aos possíveis barulhos de tiro, checar os grupos de WhatsApp, não só de São João de Meriti, como os de notícias gerais para Baixada Fluminense, trocar informação da região através dos contatos com familiares e amigos – as vezes os grupos não conseguem saber de tudo, ela me diz – e, aí sim, decidir como será o dia. Essa série de procedimentos cotidianos implicam não apenas em como Liane irá programar e realizar seus afazeres, tal como sair de casa, ir para o trabalho e regressar para casa doze horas mais tarde, mas a forma como sua filha irá viver seu próprio dia. Ela poderá sair para comprar pão na esquina? Poderá ir ao colégio? Conseguirá ir à casa de sua tia? Encontrar os amigos? Todas as respostas para essas perguntas são decididas no intervalo de horário entre o seu despertar e sua saída para o trabalho, exatas 2 horas.
A violência, que de forma vasta tem ocupado nossos debates na academia, deve ser pensada continuamente pelo prisma da multidimensionalidade (Misse, 2016). Conquanto Gomes (2016. p. 80) afirma, dispor-se a compreender a violência “implica a entendê-la contextualmente, em um continuum próprio, que pode ter como ponto de partida a repressão, mas que não se esgota nela”. A escolha de analisar mulheres que são mães em regiões periféricas da cidade advém da compreensão do gênero enquanto categoria central para compreender diferentes formatos de violência nas cidades. De acordo Liane: “tenho medo é de ser mãe em São João, no meio da violência e da guerra de lá”.
Em outro ponto da cidade, Deia acorda no Morro da Providência e mantém uma rotina similar com a de Liane. Levanta-se cedo e checa os grupos de WhatsApp que mantém com os familiares, amigos e conhecidos, navegando por pistas compartilhadas (Vigh, 2010; Ingold, 2013). O que iniciou-se com uma forma de troca de informações sobre a Providência, foi tomando maiores proporções na medida que o grupo de avisos se expandiu: amigos foram adicionando amigos, conhecidos foram adicionando conhecidos e assim por diante. Ela retrata que por ser de uma família que reside na Providência “desde sempre” e por ter vivenciado de perto a implementação e as reverberações das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), tem “olhos mais atentos e vigilantes” ao clima de seu derredor (Cavalcanti, 2008), em suas palavras.
Historicamente, a maternidade está ligada ao cuidado, à proteção e à criação. Fenômeno social marcado pelas desigualdades de gênero, raça e classe, as mulheres negras periféricas que se tornavam mães não gozavam de qualquer condição mais respeitável do que as que tinham como trabalhadoras (Davis, 2016; González, 2020). Se durante o século XIX e o século XX, a maternidade das mulheres negras era centrada na chave da reprodução de escravos e de trabalhadores de mão de obra barata, no século XXI, as mulheres negras e faveladas passam a ser acusadas, como as próprias relatam, pela polícia, pelas mídias sensacionalistas, por autoridades públicas e pelo senso comum como mães de “útero defeituoso” (Ota, 2019). Marilene, integrante das Mães de Acari[1], aponta:
Eles não nos respeitam. Eles não querem saber que antes de ele cometer aquele ato infracional ele saiu do meu útero, eu o criei, eu o alimentei e não foi pra cometer aquele ato infracional. Mas ele me trata, o policial, o sistema, como se eu tivesse posto ele no mundo pra cometer aqueles atos infracionais. E aí me tratam, me esculacham, me diminuem, eu deixo de ser um ser humano. (…) Quando eles falam mãe com a gente, o sistema tem a mania de nos chamar de mãe, mas não é mãe carinhosamente, é mãe como um qualquer, como: chegou a mãe daquela criatura, chegou a mãe daquele indivíduo, chegou a mãe daquele sementinha do mal, como se fosse uma coisa qualquer (Marilene apud Araújo, 2007, p. 74)
De formas díspares, as mães negras periféricas são as mais julgadas moralmente, mais questionadas sobre a quantidade de seus filhos, como cuidam deles e sobre a conduta e o destino de seus filhos e filhas nesse mundo. Fora essas cobranças sociais (Viana, 2021), as mães negras também se ocupam de maiores inquietações cotidianas, sobretudo as que vivem nas “zonas de risco” das cidades. Ananda Viana (2021, p. 194) disserta que além das tradicionais cobranças impostas à mulheres, as mulheres negras periféricas são impactadas pela “negação do direito a essa maternidade e da existência de seus filhos”.
No dia a dia, elas são obrigadas a (re)construir um mundo em meio à violência e o constante medo de perder seus filhos e filhas para a morte. Assim, denominamos que vivem no que Machado da Silva (2008) engendra de “vida sob cerco”, uma experiência de confinamento socioterritorial e político. Essa experiência de confinamento violento também se perpetua através das faltas, aqui podendo ser identificadas pela falta da água, falta de luz, de segurança e de direitos, o que faz com que a vida ordinária seja controlada, em diferentes níveis, pelo Estado e suas forças policiais, pela milícia, pelos tráfico – ou de forma dividida por estes ou outros proto-atores – nas periferias, subúrbios e favelas (Monteiro, 2022)
"Meu maior medo é ser mãe onde eu moro"[editar | editar código-fonte]
Machado da Silva (2008; 2016) aponta que o “problema da favela” e dos espaços à margem não está relacionado apenas a seu processo de urbanização, mas a constante e reinventada disputa pelo seu território, seja tradicionalmente pelo tráfico e pelas polícias, ou com a nova disputa que se redesenha a partir da entrada da milícia nessa disputa. Além disso, às periferias, subúrbios e favelas é realizado um corte de um “espaço apartado da cidade”, no qual as condições de vidas de suas moradoras e moradores exteriorizam as desigualdades sociais, ambientais, econômicas e políticas.
O Atlas da Violência de 2023 indica que o estado do Rio de Janeiro aponta para índices preocupantes de 27,9% do total das Mortes Violentas Intencionais (MVI) no país. Em análise subnacional, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, nesta ordem, são responsáveis por 72,5% dos homicídios ocultos do país. A mediana das taxas indica Rio de Janeiro como uma das Unidades Federativas (UFs) que permanecem entre os piores resultados coletados, além de ser uma das 14 UFs que superaram a média nacional de 31 mortes a cada 100 mil habitantes negros, sendo o único Estado que superou este número na região Sudeste do Brasil (Atlas da Violência, 2023).
Quando perguntada sobre como se sente morando em São João de Meriti hoje, Liane diz que se sente “presa, quase em cárcere privado pela violência...‘tá’ muito violento, sabe? Se eu pudesse eu me mudava de lá e ia ‘pra’ outro canto”. Enquanto a questiono sobre os motivos para se mudar de São João de Meriti, ela rapidamente acrescenta “o bairro é bom, mas hoje em dia ‘tá’ muito violento, ‘tá’ muita guerra, muita troca de tiro, então para criar minha filha lá não vale mais a pena”. Ela lamenta não poder se mudar porque reside em casa própria em Vilar dos Teles, fator crucial para uma mãe que ganha menos do que um salário-mínimo e sustenta sua filha praticamente sozinha. Outro fator que também aparece como influência é a localização de seu barracão, a distância dos membros de sua família e de alguns vizinhos. Localiza sua experiência como mãe "em meio a guerra", onde precisa agir como se sua filha estivesse constantemente em perigo.
Deia enfrenta situação semelhante, apesar de considerar não viver em uma área “tão violenta quanto na baixada”. Aos 43 anos, reside com sua família no Morro da Providência, favela localizada na área portuária do Rio de Janeiro, desde que se entende por gente. Ela relata que sua infância foi tranquila, mas que já sentia limitações na vivência cotidiana: “lá é um lugar tranquilo [...] assim, a gente não tinha muito com o que brincar, porque não tinha muito lazer, né? é um lugar de tráfico então, no caso, a gente não podia ficar muito na rua”. Deia tem cinco filhos de idades variadas entre vinte e sete, este sendo o mais velho, e nove anos, o mais novo; todos residem com ela no Morro da Providência. Quando fala sobre seus maiores medos, estes estão sempre imbricados com a vida de seus cinco filhos: “meu maior medo é...tipo...a violência de...meus filhos, os dois são mototáxis, um é gay e os outros dois são criança, então dos dois mototáxis, a violência do dia-a-dia, e a polícia, do gay, o preconceito, né? é preto [...] a polícia implica, os moradores nem tanto, e as crianças, são crianças”. Para além do gênero e da raça, Deia traz a questão da sexualidade ao abordar as preocupações com o filho negro e gay.
Entre o WhatsApp e as rotinas de proteção[editar | editar código-fonte]
Araújo (2022) e Santiago (2019) trabalham a maternidade como forma de ação coletiva, mobilização e resistência que pode ser construída como categoria política, diretamente relacionada à proteção, luto ou demanda por justiça pelos seus filhos e filhas. Afastando-se da imagem de atrizes amorfas e sem ação, as mães criam e entrelaçam suas respectivas redes, seja com seus próprios vizinhos ou em grupo de whatsapp da região onde habitam, procurando aglutinar o máximo de informações para avaliar “o clima do dia” coletivamente (Cavalcanti, 2008). Este esforço de articulação coletiva, ainda que não integre oficialmente um movimento social, isto é, organizando-se de forma não-tradicional (Bringel, 2021), é parte do que Santiago (2019, p. 36) identifica como dimensão política de mães “no cruzamento das fronteiras entre o público e o privado, transgredindo as fronteiras do lugar da política”.
Liane e Deia, por exemplo, não se consideram dentro da categoria “maternidade militante”, mas veem o ato de ser mãe como fonte direta de contestação – seja do abandono financeiro e emocional do ex-companheiro, das invisibilizaçõesdos de acessos a múltiplos direitos até a inseguranças ordinárias. Além disso, também enxergam nessas maternidades uma possibilidade de alternativa do presente, através da construção do que denomino de "rotinas de proteção". Observa-se que, posteriormente, que essa rotina passa a englobar uma rede que envolve familiares, amigos, vizinhos, pessoas próximas e conhecidos de conhecidos, bem como atores que viabilizam informações-chave e constroem diretamente esta rotina de proteção, quanto atores que usufruem e recorrem a esta estratégia de “avaliar e evitar o risco de encontrar-se preso em meio a um conflito” (Cavalcanti, 2008, p. 43). A ideia destas rotinas, construídas nestes dois casos através da coleta de informações, sobretudo via WhatsApp, busca certo tipo de previsibilidade para evitar que seus filhos e filhas passem por ou fiquem presos à um evento violento.
Estas mães, como coloca Fahlberg (2023), não se manifestam contra traficantes e milicianos e raramente engajam em confrontos com a polícia. Assim, utilizam-se de espaços públicos sociais e culturais, como praças e ruas, as vezes suas próprias casas, inserindo nesta gama de estratégias a tecnologia como ferramenta para conversarem entre si. As mulheres desempenham papéis críticos em áreas de conflito armado como cuidadoras da comunidade e mobilizadoras pela paz, sobretudo nos bairros periféricos “onde o gênero se entrelaça com a exclusão racial e de classe” e onde há “conhecimento especializado sobre como navegar pelos códigos” (Fahlberg, 2023, p. 26) locais e entre os múltiplos atores presentes no território.
Localizo as experiências de Deia e Liane, minhas duas interlocutoras, de ser mãe “em meio a guerra”, diretamente imbricado no ato de fazer viver. Demonstra, ao mesmo tempo, uma nova forma de compor mobilizações no cotidiano, para além da organização tradicional a qual estamos comumente familiarizados, constatando que os moradores e moradoras localizados nas periferias das cidades são munidos de ação e de mobilização. Utilizando o WhatsApp como ferramenta de construir não apenas rotinas, mas a vida, Liane e Deia tecem relações, dinâmicas de cuidado e de luta para mitigar os múltiplos tentáculos da violência que atravessam seu cotidiano. Assim, (re)constroem mundos devastados (Das, 2020) através dos esforços de nutrir e preservar existências múltiplas e marginalizadas, lidando diretamente com os limiares da vida e da morte.
Referências bibliográficas[editar | editar código-fonte]
ARAÚJO, Etielly Pinheiro. Cada luto uma luta: narrativas e resistências de mães contra a violência policial [livro digital]. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2022. Disponível em: <http://www.editora.puc-rio.br/media/ebook_Cada%20luto%20uma%20luta.pdf>. Acesso em: 5 de abril de 2024.
ARAÚJO, Fábio Alves. Do luto à luta: a experiência das Mães de Acari. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2007.
BRINGEL, Breno. Estallidos de indignación, levantamentos de esperanza: Cambios en los sujetos y los sujetos del cambio. In: BRINGEL, Breno; MARTÍNEZ, Alezandra; MUGGENTHALER, Ferdinand (Org). Desbordes: Estallidos, sujetos y porvenires en América Latina. Fundación Rosa Luxemburg, Quito, 2021.
CAVALCANTI, Mariana. Tiroteios, legibilidade e espaço urbano: notas etnográficas de uma favela carioca. Dilemas-Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, v. 1, n. 1, p. 35–59, 2008.
DAS, Veena. Vida e palavras: A violência e sua descida ao ordinário. São Paulo, Editora UNIFESP: 2020.
DAVIS, Angela. Mulheres, Raça e Classe. São Paulo: Boitempo, 2016
FAHLBERG, Anjuli. Activism Under Fire: The Politics of Non-violence in Rio de Janeiro's Gang Territories. Oxford University Press, 2023.
GOMES, Simone da Silva Ribeiro. Oportunidades políticas e estratégias militantes em contextos de violência rotinizada: uma comparação entre a Zona Oeste do Rio de Janeiro (Brasil) e Guerrero (México). 2016. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Estudos Sociais e Políticos. Rio de Janeiro, 2016.
GONZALÉZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. IPEA - Atlas da Violência 2023. São Paulo: FBSP, 2023.
MACHADO DA SILVA, Luiz Antônio. Vida sob cerco: violência e rotina nas favelas do Rio de Janeiro. Editora Nova Fronteira, 2008.
MACHADO DA SILVA, Luiz Antônio. A política na favela. DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, v. 4, n. 4, p. 669–716, 2016.
MISSE, Michel. Violência e teoria social. DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, v. 9, n. 1, p. 45–63, 2016.
MONTEIRO, Giovanna Lucio. A guerra que tem rosto de mulher: a rotinização da violência a partir das infraestruturas na Cisjordânia palestina. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Estudos Sociais e Políticos. Rio de Janeiro, 2022.
OTA, Maria Eduarda. De fábrica de marginal a mães guerreiras: uma etnografia sobre a luta de mães de vítimas da violência do Estado. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Estudos Sociais e Políticos. Rio de Janeiro, 2019.
SANTIAGO, Vinicius. A maternidade como resistência à violência de Estado. Cadernos Pagu, n. 55, p. e195511, 2019.
[1] Mães de Acari é um movimento social de mães fundado para cobrar justiça, reparação e memória por seus filhos e filhas, desaparecidos forçados, sequestrados pela polícia no evento que ficou conhecido como Chacina de Acari, ocorrido na década de 1990. Para mais informações, visitar: <https://wikifavelas.com.br/index.php/Chacina_de_Acari_-_26_de_julho_de_1990>.