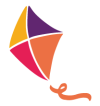Acumulação social do fracasso das políticas de segurança pública
O verbete "Acumulação social do fracasso das políticas de segurança pública" é um recorte da tese de doutorado em sociologia “Casos de polícia e redes de política: uma análise das políticas de segurança pública a partir da Zona Sul do Rio de Janeiro”, defendida em 2022 por Clara Polycarpo. O recorte é uma reflexão sobre a violência urbana, enfatizando sua acumulação social e impacto nas políticas de segurança pública. A autora, baseando-se em autores como Michel Misse e Luiz Antonio Machado da Silva, discute como o fracasso dessas políticas gera novas formas de sociabilidade, como a sociabilidade gerencial-policial. No Rio de Janeiro, os grupos armados, como milícias e facções, dominam territórios e expandem suas atividades de tráfico de drogas ou de armas, incluindo extorsão e privatização de serviços. A militarização e policialização da segurança reforçam a repressão, transformando cidadãos comuns em agentes de vigilância. A prefeitura tem investido em tecnologias de controle, o que intensifica esse modelo. O texto propõe refletir sobre novos paradigmas e construir alternativas com a participação das populações mais afetadas.
Autoria: Clara Polycarpo[1]
Recorte da tese[editar | editar código-fonte]
Recorte da tese de doutorado da autora[2]. A violência, como categoria mobilizada para representar variadas práticas e conflitos sociais urbanos muito complexos, é utilizada muitas vezes de forma descritiva, sendo relacionada ao uso legítimo (ou não) da força em uma determinada relação social. Por outro lado, considerar a violência em sua circularidade causal acumulativa, tal como proposto por Michel Misse (2008), nos abre espaço para pensar as próprias políticas de segurança, e os acúmulos de inúmeros programas supostamente ineficientes (e fracassados), na chave desta acumulação social. Se, neste caso, a acumulação social da violência foi capaz de estruturar um padrão de sociabilidade que Luiz Antonio Machado da Silva (2010) denominou sociabilidade violenta, no qual a força física, com ou sem instrumentos e tecnologias, deixa de ser um meio de ação para se transformar em um regime de ação, com o passar dos anos, podemos dizer que a acumulação social do fracasso das políticas de segurança tem sido capaz de produzir um novo padrão de sociabilidade, o qual denominamos sociabilidade gerencial-policial (Polycarpo, 2022), que traz à tona a crise permanente das políticas de segurança pública e aprofunda as disputas em torno dos territórios da cidade, operacionalizando novas práticas de se fazer cidade e de se fazer política a partir da racionalidade neoliberal.
A realidade da violência urbana no Brasil hoje perpassa atores antigos mas que se atualizam sob novas práticas. Nas últimas décadas, há diferentes formas de expansão e atuação dos grupos armados na cidade e em sua região metropolitana. De acordo com o Mapa Histórico dos Grupos Armados, produzido pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (GENI-UFF), em parceria com o Instituto Fogo Cruzado, a capital fluminense é uma região marcada pelo predomínio das milícias. Dos 155,33 km² de área da cidade dominada por algum grupo armado em 2023, 66.2% estavam sob influência das milícias em 2023. Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e Amigos dos Amigos concentraram 20,7%, 9,3% e 2,4%, respectivamente. Apesar do forte domínio, as milícias perderam território na cidade, registrando uma queda de 15,4%. O Terceiro Comando Puro reduziu 9,6% de seu território e o ADA, 16%. E essas mudanças têm acontecido através das diferentes formas de acordos e agenciamentos, contribuindo para a atualização de algumas práticas criminais - como, por exemplo, a expansão territorial por meio da construção ilegal de moradias, a apropriação ilegal de terras e o mercado ilegal de proteção.
Os grupos armados, compostos por facções do tráfico e por milícias, em seus mais diversos imbricamentos entre si e entre setores dos governos, atuam a partir do domínio dos territórios em torno não apenas do tráfico de drogas ou de armas, mas também da extorsão e da privatização de serviços públicos e privados - sejam eles o acesso à internet ou até mesmo o acesso à moradia. Por outro lado, as polícias atuam em torno da estatização das mortes das populações negras, pobres e faveladas ao promover, não apenas os próprios negócios ilícitos, como também uma série de ilegalismos, como chacinas e desaparecimentos nos territórios sob o domínio de grupos armados rivais, representando o braço armado do Estado responsável por produzir vidas (e mortes) precárias. Aqui, nos interessa refletir sobre as formas de operacionalização da disputa pela segurança pública diante desse emaranhado de atores - e redes - no Rio de Janeiro.
Para refletir sobre isso, a autora defende que a percepção do crescimento da violência urbana tem sido capaz de reordenar as políticas de segurança pública nos âmbitos federal, estadual, municipal e local e reorganizar as formas de se produzir cidade e sociabilidade a partir de uma lógica de gestão orientada pelos sucessivos fracassos e descontinuidades dos programas anteriormente implementados. A produção do fracasso da política cria, a cada momento, como justificativa, uma “nova” política de segurança e, com ela, traz novos atores e novos dispositivos para operacionalização da segurança, da violência e da própria polícia em cada diferente território - abrindo espaço para reorganizações dos domínios territoriais a partir dessa lógica. Isto se dá pois o modelo gerencial militarizado das políticas de segurança pública transfere para as polícias a solução para todos os males sociais através da implementação de formas cada vez mais agressivas, invasivas e restritivas de policiamento, e, com isso, uma rede de novos atores resolve por participar deste gerenciamento operando as ações de controle e fiscalização a partir de seus próprios meios.
Por militarização, consideramos o emprego de estratégias militares de confronto e guerra, em que o monopólio legítimo da força física e policial é reivindicado contra residentes das cidades assim definidos/classificados como “inimigos” - sejam os moralmente avaliados como “bandidos” ou até mesmo os considerados “vagabundos”, (Misse, 2006). Em torno dessas práticas militarizadas, territórios são ocupados e corpos são reprimidos e, dessa maneira, a resolução de conflitos é naturalizada a partir do uso da força e da violência, fazendo com que a presença militar seja considerada a única forma de manutenção da ordem – em reprodução de sua “metáfora de guerra” (Leite, 2012). É o que narrativamente justifica o emprego cada vez maior das polícias nas favelas e periferias, mas também nas principais áreas de interesse da cidade, sitiando territórios e populações sob um urbanismo militar (Graham, 2010).
Por policialização, compreendemos o uso de práticas de fiscalização e controle por meio do que se define como o “trabalho de polícia” e que tem, sistematicamente, se espraiado para práticas civis e comunitárias em razão do acesso a novas tecnologias de vigilância – como as câmeras, os drones, os próprios celulares e/ou as mídias digitais. Ao tornar a continuidade das rotinas cotidianas um caso de polícia, atores sem necessário envolvimento com os regimes de militarização tornam o ato de policiar parte de um exercício de cidadania pautado na tentativa de garantia de sua sensação de segurança – seja por meio de câmeras de vigilância instaladas em casas e calçadas por empresas privadas, seja no monitoramento constante das atividades de vizinhos e transeuntes por celulares particulares, até o diálogo direto com agentes de segurança oficiais (e não-oficiais) para atuar na proteção de suas calçadas e estabelecimentos (Polycarpo, 2024).
A prefeitura do Rio, por exemplo, em parceria com setores do governo estadual, federal e da iniciativa privada, desde 2010, tem investido em tecnologias de controle e vigilância para dar suporte às ações de segurança pública. O Centro de Operações Rio (COR) é uma instalação pública gerida pela prefeitura cujo objetivo é integrar o acompanhamento e gerenciamento de ocorrências de diversos tipos na cidade. Dessa forma, há um grupo de trabalho constituído por pelo menos 30 órgãos municipais que atuam conjuntamente para efetuar ações referentes à segurança pública, eventos de natureza ambiental, ocorrências de trânsito, entre outros. Articulado com o governo do estado por meio das polícias e, em especial, do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), esse monitoramento tem ganhado novas vestes nos últimos anos. A própria Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia (Civitas), criada em 2024 pela prefeitura, se pretende como uma iniciativa inovadora para apoio às forças de segurança no combate a atividades irregulares ou ilegais de forma inteligente e coordenada. Neste último ano, ganhou um incremento importante com milhares de novas câmeras de segurança integradas ao sistema de monitoramento da prefeitura através da empresa de tecnologia de segurança “Gabriel" - tendo inicialmente como seu co-fundador, em 2020, o atual vice-prefeito Eduardo Cavaliere.
Como parte desse fenômeno, novas práticas de proteção e controle vão se desenvolvendo e atuando em diferentes territórios da cidade. Por milicianização, consideramos o conjunto de práticas de militarização e policialização não apenas produzidas a partir da ação das forças de segurança do Estado, mas orientadas a partir da sociabilidade gerencial-policial (Polycarpo, 2022) que personifica a “guerra civil” urbana e define as dinâmicas de determinados grupos da sociedade para o controle de territórios e condutas em uma lógica de proteção privada e privatizada. A novidade está justamente na capacidade subjetiva de introjeção destas práticas não apenas como aparato sociotécnico de um urbanismo militarizado, mas, sim, como novas maneiras de pensar e de agir de um corpo de cidadãos que fazem da cidade um espaço de conflito constante na construção de um tipo de domínio militar, econômico e político com práticas totalitárias. Este fenômeno representa a mutação, até mesmo, do que se tinha como consideração a respeito das “milícias urbanas”, entendidas como organizações paramilitares que envolvem diretamente agentes ligados ao Estado, pois que, como subjetivação, são representadas por cidadãos comuns em suas formas de controle de rotinas e corpos para manutenção de suas atividades econômicas cotidianas.
É claro que, diante de uma complexidade de fatores que atuam e afetam as diferentes relações entre os ilegalismos e os associativismos em cada um dos territórios da cidade, esta dinâmica está em constante (re)produção e transformação. Por enquanto, pretendemos lançar o debate para refletirmos sobre os novos paradigmas que têm estruturado a representação sobre o crime e a violência nas cidades e, em especial, na cidade do Rio de Janeiro. Assim, a partir de iniciativas já mobilizadas por diferentes movimentos sociais, construir outras formas de fazer cidades e política, principalmente, considerando a participação das populações mais vitimadas pela acumulação social do fracasso das políticas de segurança pública: os(as) moradores(as) das favelas e periferias.
Ver também[editar | editar código-fonte]
- Acumulação social da violência
- Da militarização à milicialização das cidades (artigo)
- Sobre a acumulação social da violência no Rio de Janeiro (resenha)
- Sociabilidade violenta: por uma interpretação da criminalidade contemporânea no Brasil urbano (artigo)
- ↑ Verbete produzido a partir de tese de Doutorado em Sociologia intitulada “Casos de polícia e redes de política: uma análise das políticas de segurança pública a partir da Zona Sul do Rio de Janeiro” e defendida em 2022 no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Trecho retirado de versão publicada originalmente no blog Outras Palavras, sob o título "WikiFavelas: Saídas à cidade (e vidas) militarizadas", em 22 de janeiro de 2024.
- ↑ POLYCARPO, C. (2022). Casos de polícia e redes de política: uma análise das políticas de segurança pública a partir da Zona Sul do Rio de Janeiro. Tese (Doutorado em Sociologia). Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações/UERJ
Referências biblográficas[editar | editar código-fonte]
GRAHAM, S. (2010). Cities Under Siege. Londres: Verso.
LEITE, M. P. (2012). Da “metáfora de guerra” ao projeto de “pacificação”: favelas e política de segurança pública no Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Segurança Pública, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 374-389.
MACHADO DA SILVA, L. A. (2010). “Violência urbana”, segurança pública e favelas – o caso do Rio de Janeiro. Caderno CRH, Salvador, v. 23, n. 59, p. 288-300.
MISSE, M. (2006). Crime e violência no Brasil contemporâneo: estudos de Sociologia do Crime e da Violência Urbana. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris.
__________. (2008). Sobre a acumulação social da violência no Rio de Janeiro. Civitas (Porto Alegre), v. 8, p. 371-385.
POLYCARPO, C. (2022). Casos de polícia e redes de política: uma análise das políticas de segurança pública a partir da Zona Sul do Rio de Janeiro. Tese (Doutorado em Sociologia). Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
__________. (2024). Negociação e construção de políticas na cidade: redes de política e controle urbano por meio das mídias digitais. Dilemas, Rev. Estud. Conflito Controle Soc. Rio de Janeiro, vol. 17, no 3, e 62295.